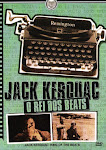Por Sâmila Braga
Ver Osama sob a ótica ocidental judaica-cristã é se encher de indignação perante às atrocidades de um regime cruel sobre vidas, principalmente femininas. O período, no qual os Talibãs assolaram o Afeganistão, marcou ainda mais os rostos afegãos já tristes e empobrecidos econômica e culturalmente. O Regime Talibã chicoteou a dignidade de um povo, que já não bastasse a guerra civil e as invasões russas, perdeu seus homens e deixou suas mulheres reprimidas.
Ser mulher nessa época e país era ter de se submeter ao uso obrigatório da burka e da companhia permanente de um homem. Era não poder trabalhar para sustentar a própria família que mandou seus homens pra guerra. Mais que mulher, a criança que encarna Osama, é apenas menina. Metonímiza-se. Transveste-se de menino, Osama. Anula sua feminilidade, quando corta os cabelos, num sofrimento que desenha em seus olhos um mal maior. O diretor Barmak aponta claramente como as diferenças de gênero se extinguem quando a menina estuda e trabalha como homem. É aceita apenas por ser menino, mas ainda é uma garota.
Siddiq Barmak escreveu, produziu, dirigiu e editou o filme. “Toda a história é uma combinação de histórias reais”, sentencia. Ele deu roupagem islâmica à velha história de repressão contra a mulher, que tem de encarnar a figura masculina, denunciando a igualdade de direitos. Ao contrário de outras tramas semelhantes – como a trabalhada por Walt Disney, em Mulan, ou da própria Joana D’arc, mártir histórica – a menina não chega a ir pra guerra. O conflito, que trava, é interno. Tem de abolir-se fisicamente para ter o que comer. Trabalha em uma venda, até ser convocada para o treinamento militar, na Madrassa. Perde-se no ritual masculino que nunca a pertenceu e quase é delatada. Torna-se mulher pela menarca, se concretiza mulher aos olhos de todos. Descobrem seu “crime”. É julgada. O perdão parece deveras mais penoso que a própria execução. É entregue ao Mulá como esposa, que já possui três outras mulheres.
Com uma fotografia inebriante de Ebrahim Ghafori, os vidros embaçados e os enquadramentos mágicos e apontadores dão ao filme a sinergia denunciadora de sofrimento que o diretor propõe. Tendo sido o primeiro longa-metragem filmado após a queda do regime opressor, grita ao mundo o potencial cinematográfico do Afeganistão. País, que desde o século que terminava, produzira o ínfimo numero de 40 filmes, entre longas e curtas.
Além da fotografia, os demais elementos de cena, as interpretações amadoras e firmes, a música de Mohammed Reza Darvishi dão à tragédia as expectativas do diretor, que como ele descreve são “que a dor, a tristeza e o sofrimento de nossa nação choquem os expectadores do mundo, para que possam mudar a consciência das pessoas e seus pontos de vista”. Debruça-se sobre a cultura religiosa que se apropria do discurso do livro sagrado com uma interpretação fixa, unilateral, fundamentalista. E contesta. Uma contestação-menino com mãos de garota.
Como o próprio diretor expõe, a busca por atrizes para o filme foi árdua. As marcas do regime ainda permaneciam nas almas e mentes afegãs. Acabou topando, dois dias antes do início das filmagens, com Marina Golhahari, a menina que viria a protagonizar Osama. Viu nela a dor de um passado, que seria projetado não só nas telas como no seu olhar cativante e revelador.
Burkalizar as mulheres, aprisionando-as num regime de falso moralismo, é mais do que aparentemente uma prisão individual, é, contudo, expressão maior de uma coação nacional, institucionalizada. O choque para o expectador ocidental se dá entre os dois universos culturais. Um, com excesso de moralismo, que visa preservar e resguardar a menor parte do corpo feminino, com a criação de órgãos públicos como o Ministério para a Promoção da Virtude e a Prevenção do Vício e da Imoralidade. De outro, uma sociedade que expõe o corpo livremente, em sensualizações naturalizadas, até entre crianças, na música, no cinema, na publicidade e na televisão. É a burka que briga com o micro-shortinho de funk. Essa procura da verdadeira essência da mulher é apenas um fator étnico? Onde estará a verdadeira liberdade de expressão, vestimenta, comportamento? É uma boa questão para reflexões. Osama traz à tona o universal, o habitual, sob uma bela história. Veste a inocência de acusação política. Dá vida a Osama.